domingo, 25 de novembro de 2012
ELIANE BRUM - 12/11/2012 - ÉPOCA
ELIANE BRUM - 12/11/2012 - ÉPOCA
Em um belo filme sobre a condição humana, um velho
descobre-se diante de um dilema que dirá quem ele é e como ama. A escolha que o
desafia é também a que nos provoca a cada dia de nossa vida.
Na primeira vez em que assisti à E se vivêssemos todos juntos?,
pensei, ao sair do cinema com os olhos mareados e a alma apertada no corpo como
uma calça jeans dois números menor: queria tanto escrever sobre esse filme, mas
o melhor que posso escrever é só um verbo, conjugado no imperativo, seguido de
um ponto de exclamação: “Assistam!”. E escrevi exatamente isso no twitter. Em
geral, é o melhor que podemos dizer sobre os filmes de que gostamos, assim como
“leiam!” para os livros que nos tornaram outros depois da última página. Mas
continuei desassossegada e vi o filme uma segunda vez. Percebi que precisava
escrever um pouco mais.
E se vivêssemos todos juntos? (Stéphane Robelin –
França/Alemanha) é um filme sobre os últimos anos de quem, graças ao aumento da
expectativa de vida, passou dos 70 e poucos. Como disse Jeanne, a personagem de
Jane Fonda, ao seguir a ambulância que carregava seu marido para o hospital
depois de uma queda: “A gente planeja tudo, mas nunca pensa no que fazer nos
últimos anos da vida”. É disso que se trata. O filme fala de algo que precisamos
falar mais: sobre envelhecer neste mundo, nesta época. Precisamos falar mais
porque a maioria de nós vai viver esse momento. Não é fácil vivê-lo – é uma
sorte vivê-lo.
Começamos a nos preparar, como invoca Jeanne, quando nos
arriscamos a pensar sobre aquilo que nos inquieta ou inquietará – ou inquieta
ou inquietará aqueles que amamos. O cinema já descobriu essa necessidade e, só
neste ano, chegaram ao Brasil pelo menos dois filmes que falam explicitamente
sobre envelhecer: O exótico Hotel Marigold (John Madden, Reino Unido), que
poderia ser bem melhor do que é, e “E se vivêssemos todos juntos?”.
Neste, um grupo de velhos decide viver na mesma casa para
enfrentar aquilo que os inquieta – e seguidamente os ameaça. A iniciativa é de
um deles, Jean (Guy Bedos), um homem que passou a vida engajado em causas
coletivas contra as injustiças sofridas pelos mais fracos. Impedido de seguir
para a próxima missão em algum país pobre e distante, porque o seguro se recusa
a cobrir gente da sua idade, ele aos poucos descobre que tem uma causa bem
perto dele pela qual lutar, que é também uma causa de desamparo.
E se vivêssemos todos juntos? não é um filme para velhos –
mas para todos que se interessam pela condição humana. No roteiro, aliás,
aqueles que aparecem no lugar de “filhos”, ora perplexos, às vezes distantes,
em outras arrogantes na sua certeza sobre o que é melhor para os pais –
perdidos sempre – parecem precisar muito assistir a um filme como este.
O filme, que já é muito, muito bonito mesmo, fica ainda melhor
com a interpretação impecável de grandes atores, todos eles velhos e, portanto,
mais experientes do que nunca. Todos menos um: o único jovem protagonista é o
ótimo Daniel Brühl, por quem nos apaixonamos em “Adeus, Lenin”, e que tem no
enredo um lugar muito particular. Ele é um estrangeiro não só por ser um alemão
na França, mas por ser um jovem em território de velhos: estrangeiro porque só
estranhando é possível enxergar. Vale a pena alertar ainda que, ao contrário do
que anuncia a classificação, “E se vivêssemos todos juntos?” não é uma
comédia.
(Como já escrevi aqui, eu não chamo velhos de idosos nem
velhice de terceira idade ou – argh – melhor idade. Assisti ao filme pela
primeira vez na companhia de parte de um grupo de amigos com os quais tenho um
pacto desde os 30 e poucos anos: ao envelhecer, moraremos todos juntos em um
condomínio que um de nós já batizou, ironicamente, de “O Ocaso Feliz”. Já
acertamos mais ou menos a arquitetura, na qual cada casa terá entradas
independentes e fundos para um espaço coletivo, de maneira que, se quisermos
ficar sozinhos, basta simplesmente passar a chave na porta dos fundos e botar
uma placa de “não perturbe”. Mas não conseguimos nos acertar sobre qual cidade
– pequena, perto de uma grande – escolheremos para nossos últimos anos. Ao
deixar a sala de cinema, tomamos um espumante antes de nos separarmos. Na
segunda vez, assisti ao filme com o homem que eu amo e em quem pretendo abotoar
casacos de lã na velhice. Quero muito um velho companheiro com casacos de lã abotoados.
E espero viver para isso. Quando o filme terminou, choramos abraçados.)
Feita essa antessala, preciso dizer o seguinte: se você não
viu o filme e pretende vê-lo, pare por aqui. Embora o que quero dizer use o
filme apenas como ponto de partida, não é possível escrever sem contar bastante
sobre ele, mais do que qualquer comentário educado permitiria. Há quem não se
importe. Pessoalmente, acho que é sempre (muito) melhor ir ao cinema no escuro.
Se quiser, volte ao texto depois – e, como estímulo a uma visita à tela grande,
coloco o trailer aqui.
Para quem continua comigo: entre as tantas possibilidades de
reflexão propostas por esse filme, há uma que me comove mais. Ela fala de
memória – e de algo muito importante: memória não é apenas lembrar, é também
esquecer.
No filme, Albert (Pierre Richard) luta contra a perda da
memória. Ele não sabe se já levou o cachorro para passear ou não. “Se eu não o
tivesse levado, ele estaria reclamando, não?”, indaga-se. Para lembrar os
acontecimentos recentes, que o cérebro já não registra, Albert usa a palavra
escrita. Escreve um diário sentado na poltrona do apartamento que divide com a
mulher, estrategicamente postado ao lado de uma janela que dá para os fundos de
uma escola infantil. É com um olho no caderno e o outro na janela, na qual
espera, com evidente alegria, as crianças saírem para brincar, que ele relata o
sabor do vinho que tomou com os amigos, o cardápio do jantar e aquilo que
precisa lembrar quando já tiver esquecido no dia seguinte. O diário, a
narrativa da vida pela palavra escrita, é o fio que orienta Albert pelos
labirintos de um cotidiano no qual o cérebro falha em lembrar do ontem e até
mesmo de alguns minutos antes.
A velhice, para Albert, se manifesta primeiro por esses
lapsos de memória. Mas logo ele terá de lidar com um dilema mais profundo: o
que lembrar, o que esquecer. Sua mulher, Jeanne (Jane Fonda), de quem já
falamos lá no início, teve câncer. No começo do filme, testemunhamos quando ela
abre os exames na cozinha e descobre que a doença segue com ela e que não terá
muito mais tempo de vida. Quanto tempo, nem ela nem ninguém pode saber.
Jeanne toma uma decisão ao rasgar os exames e enfiar os
pedaços na lata de lixo. Escolhe, por amor, não contar a Albert da sua
condição. Diz a ele que está curada. Quer viver seus últimos dias, semanas,
meses sem que ele seja assombrado por sua morte. Sente-se assim menos
assombrada por ela – e mais livre para planejar seu enterro, por exemplo, mais
livre para escolher o pouco que pode escolher.
Mas, num dia em que Albert está sozinho em casa, o médico
bate na porta à procura de Jeanne, que tinha se recusado a fazer a cirurgia
proposta e sumido do consultório. Albert descobre naquele momento: 1) que a
mulher vai morrer de câncer; 2) que ela decidiu não compartilhar essa
informação com ele. É isso que ele registra em seu diário. E mais um pouco: “É
um direito dela (viver sem lhe contar que em breve morrerá de câncer)”. No dia
seguinte, enquanto espia ansioso pela janela se as crianças já estão vindo para
o recreio, ele lê esse trecho no diário e tem um sobressalto.
Mais adiante, Albert e Jeanne já estão vivendo em comunidade
quando ele abre – por engano? – o baú que pertence ao seu amigo Claude (Claude
Rich). Já não há mais uma janela por onde espiar crianças brincando, mas há
outras paisagens humanas e sentimentais. Albert sente-se desterrado, agora não
apenas de sua memória, mas também de sua geografia física, na nova casa. Mas o
que relembra todos os dias ao ler o diário faz com que compreenda que é preciso
encontrar outros parceiros para encerrar a vida. Não os desconhecidos de um asilo
de velhos, mas amigos de uma vida inteira. Gente capaz de reconhecer a
geografia que é ele.
Claude é um fotógrafo solteirão e sedutor, o número ímpar da
pequena comunidade. E Albert lê cartas destinadas a Claude, nas quais descobre
que tanto Annie (Geraldine Chaplin) quanto Jeanne tiveram tórridos casos
extraconjugais com o melhor amigo, 40 anos atrás. Albert registra sua
descoberta na carta ininterrupta que escreve para si mesmo. E, ao reler o
diário a cada manhã, relembra a traição que pode colocar em risco o delicado
equilíbrio daquela comunidade construída sobre afeto, solidariedade e a
necessidade de unir forças contra um mundo hostil à velhice.
Albert depara-se com uma questão muito mais profunda do que
os esquecimentos involuntários causados pela velhice. Ele precisa agora
enfrentar a memória como escolha. A cada manhã, ele sobressalta-se primeiro com
a notícia de que a mulher tem um câncer que a levará à morte próxima. Em
seguida, com a descoberta de que ela o traiu com o melhor amigo 40 anos atrás.
O que fazer agora que a velhice lhe deu a possibilidade de escolher o que
lembrar e o que esquecer?
A escolha de Albert é um ato completo de amor. Ele decide
sofrer a cada dia – e dia após dia – o impacto da notícia de que Jeanne tem um
câncer e que vai morrer em breve. Apesar de ser talvez a notícia mais brutal de
uma existência inteira, é a forma que ele encontra de estar com ela, de não
deixá-la sozinha nesse momento, de viver essa dor junto com a mulher que ama,
mesmo que ela nunca saiba disso. Escolher lembrar quando podia simplesmente
esquecer é a forma que Albert encontra de amar Jeanne mais e melhor – até o
fim.
Se escolhe lembrar a doença e a morte de Jeanne, Albert
escolhe esquecer a traição de Jeanne. Depois de dar muitas voltas na casa e em
si mesmo, ele rasga a página do diário na qual relata a descoberta, a amassa e
a guarda no bolso. Antes, porém, conta a Jean que ele também tinha sido traído
pela própria mulher e pelo melhor amigo. Assim, Albert lega a Jean uma memória
que o amigo pode superar, mas não esquecer. Albert pode ter feito isso tanto
por sentimento de lealdade quanto pelo sentimento de vingança, na medida em que
o temperamento explosivo de Jean é bem conhecido. Ou ainda por acreditar que
Jean tem o direito de decidir por si mesmo como quer lidar com essa memória.
Mas ele, Albert, escolhe esquecer. E este, ainda que de uma forma mais
tortuosa, é um ato de amor tanto pela mulher quanto pelo amigo.
Viver, não apenas para os velhos, é uma constante escolha
entre o que lembrar e o que esquecer. Ainda que para isso a maioria de nós
tenha de travar um embate feroz com seus fantasmas antes de conseguir arrancar
uma página espinhosa. Alguns envenenam a própria vida ao fixar-se numa
lembrança mais letal que cianureto, condenando-se a um eterno presente
congelado, o que é um tipo de morte. E outros perdem essa mesma vida ao
transformá-la na fuga incessante de algo que só poderão esquecer se primeiro
tiverem lembrado e enfrentado como lembrança.
Ainda que nossas escolhas em torno da memória sejam não mais
difíceis do que a de Albert, mas seguramente mais demoradas, nossa existência é
determinada por elas. Tanto na esfera pessoal quanto na pública. É uma escolha
na esfera pública a decisão de o que fazer com a memória que está em jogo na
Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, ao apurar os crimes da ditadura. E
nesta, em minha opinião, é preciso lembrar – com todas as consequências
implicadas nesse gesto – para que o país possa seguir adiante.
Assim como é uma escolha na esfera pessoal o lugar e o
tamanho que cada um dá a uma determinada experiência nos muitos mal entendidos
entre pais e filhos. É por preferir seguir lembrando uma ausência, uma
humilhação ou um equívoco, dia após dia como se fosse o primeiro, em vez de
lidar, transformar em marca e então esquecer – ou pelo menos dar à experiência
um lugar e um tamanho mais compatíveis com o movimento da vida – que muitos
chegam ao amanhã apenas no calendário, mas morrem com as unhas cravadas no
ontem.
Como nos mostra Albert, escolher o que lembrar e o que
esquecer é também um ato de amor. E nunca é um ato fácil, como não é fácil o
amor.
É também um ato de amor a magistral cena final desse filme.
E esta eu não vou contar mesmo para quem já viu. Nela, Albert faz, mais uma
vez, uma escolha profunda em torno da memória. E são os amigos que provam saber
amar ao não apenas acolherem, mas embarcarem na sua escolha. Fazem isso porque
compreendem que a vida contém proporções talvez equivalentes de realidade e de
delírio, mesmo quando a gente finge não saber disso. E que amar é, às vezes,
lembrar de esquecer.
Assinar:
Postar comentários (Atom)


























































































































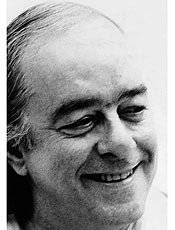





















Nenhum comentário:
Postar um comentário